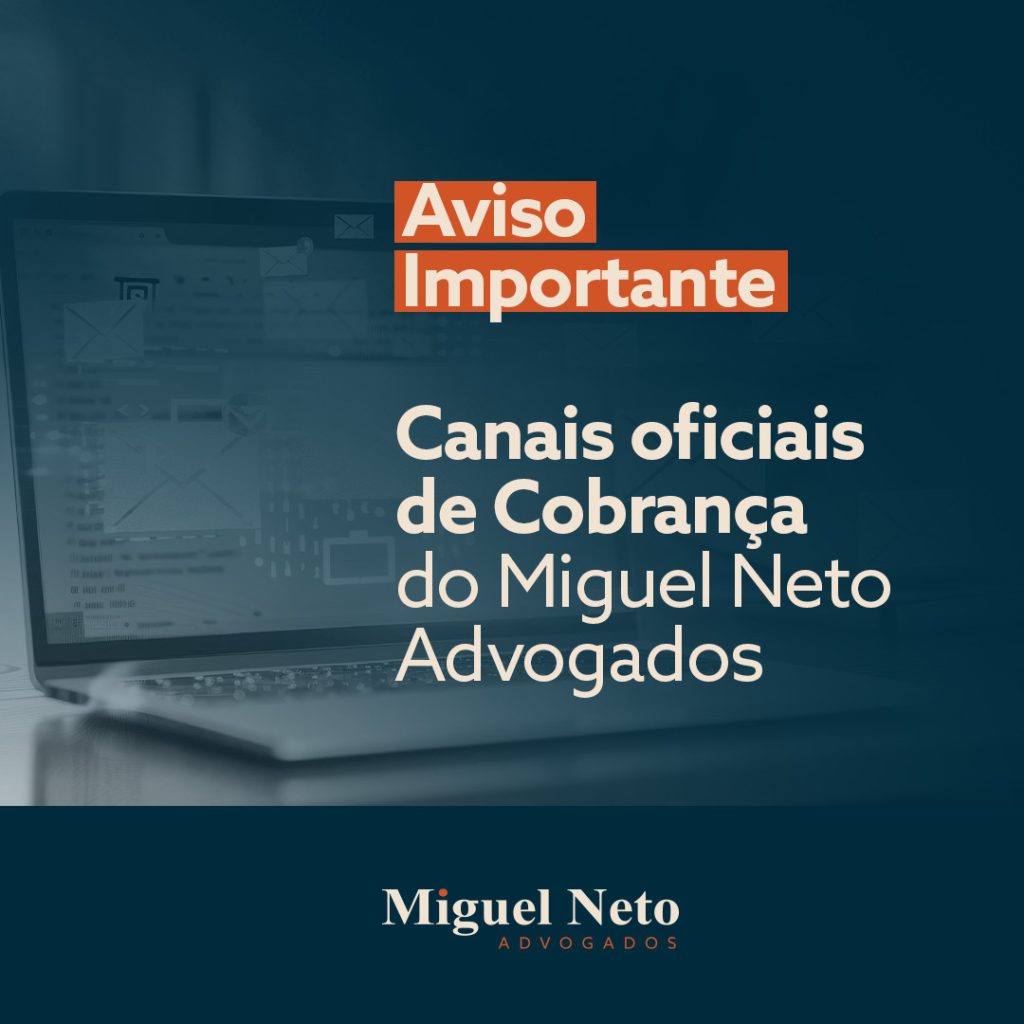A frase acima é uma das minhas preferidas da peça Macbeth, por meio da qual ele próprio prevê as consequências de uma justiça imparcial, que não nos poupa das possíveis consequências dos nossos atos e de termos de beber do próprio veneno que destilamos. E é justamente nessa imparcialidade que residem a qualidade e a equidistância do julgador para com as partes. Isso é elementar e deve ser preservado tanto pelos juízes togados, como por qualquer outro julgador, no âmbito privado ou público. O cuidado com a manutenção da imparcialidade deve ser, de fato (e não apenas aparentemente), tratado com muita atenção pelos julgadores, sob pena de se desrespeitar o “princípio dos princípios” processuais: o devido processo legal.
A imparcialidade tem caráteres objetivos e subjetivos bastante relevantes. Ocorre que, na fixação de caráteres objetivos, é primordial que se estabeleçam limites de razoabilidade e proporcionalidade, atrelados também ao que seja efetivamente cognoscível ao julgador, de forma suficientemente clara para eivar de dúvida seu posicionamento perante as partes.
Os critérios objetivos têm a função de trazer balizas visíveis prima facie para que os julgadores evitem determinadas condutas que são, por si próprias e independentemente de intenções ou vontades, determinantes para se impossibilitar o próprio ato de julgar. Essas balizas, portanto, devem ser realmente evidentes aos julgadores e facilmente demonstráveis pelas partes, sem a necessidade de se dispender esforços investigativos.
Os critérios subjetivos são muito mais complexos e dependem, sim, de uma verificação muito mais cautelosa. Para se afastar a presunção de imparcialidade, as evidências de atuação indevida do julgador devem ser realmente fortes, não apenas pela demonstração de eventual relacionamento ou contato deste com partes relacionadas ao litígio que lhe fora submetido, mas também, necessariamente, para deixar claro que o resultado do julgamento decorreu, de alguma forma, deste relacionamento indevido.
No que concerne aos juízes, as regras para aferição da imparcialidade encontram-se dispostas no Código de Processo Civil (artigos 144 e145), nas leis orgânicas das magistraturas estaduais e federais, nos regimentos internos dos tribunais e nos códigos de ética da profissão, como é o caso do Código de Ética do Conselho Nacional de Justiça, por exemplo.
Dentre essas regras, uma que sempre teve sua aplicabilidade questionada é a disposta no inciso VIII do artigo 144 do Código de Processo Civil. Tal regra, que traz em si um critério concebido como objetivo e de verificação prima facie, prevê que há impedimento do Juiz para atuar em processos “em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório”.
O comando legal acima considera o juiz impedido de julgar um caso em que, por exemplo, figure como parte um cliente do escritório do seu tio, ainda que tal escritório não esteja envolvido na demanda. Parece claro que o comando legal é muito difícil de se cumprir na prática, por iniciativa própria do juiz. O que já ocorreu em alguns casos, no entanto, foi o reconhecimento da situação pelo juiz, quando trazida de forma comprovada pelas partes. Nesses casos, não raro o juiz verificar sua condição de impedido e deixar de conduzir o caso, com a possível anulação dos atos que praticou no seu curso.
A discussão em referência chegou ao STF por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.953, ajuizada pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB). Nesta ADI, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para considerar inconstitucional a regra prevista no artigo 144, VIII, do Código de Processo Civil.
Em suma, a argumentação dos ministros do STF que votaram no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo vão no sentido de que esta redação viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive por considerar que a abrangência deste impedimento seria excessiva. Com esta maioria já formada, o STF, portanto, deu procedência ao pedido da Associação dos Magistrados do Brasil, autora da referida ADI.
O ministro Gilmar Mendes, relator substituto, ao externar seu voto divergente do relator originário, ministro Edson Fachin, destacou alguns pontos, que entendo relevantes para a discussão que se propõe nesse artigo.
É certo que, essencialmente, o que motiva a previsão de regras de impedimento na legislação processual é assegurar que o julgador atue, nos casos que lhe são submetidos, de forma imparcial e desinteressada. Afinal, como bem destacam Wambier, Conceição, Ribeiro e Mello, “[a] s partes têm direito ao julgamento da lide por um juiz imparcial que conduza o processo e decida de forma independente, isenta e impessoal” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; DE MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 312). De fato, não é razoável esperar um julgamento nesses moldes em situações em que o julgador seja ele mesmo parte no processo ou em que esteja a decidir processo de interesse de seu cônjuge ou ascendente. […]
Ressalte-se que não se desconhece que há, em nossa história, relatos de episódios de julgamentos em que o magistrado, a pretexto de favorecer a parte patrocinada por seu cônjuge ou parente, tenha deixado de observar a regra de impedimento do art. 144 do CPC. Contudo, tenho para mim que uma cláusula aberta, excessivamente abrangente, como a do inciso VIII, segundo a qual basta que a parte seja cliente do escritório para afastar o magistrado, não seja o melhor remédio para o combate desse problema. Em verdade, isso pode causar o nefasto efeito contrário de aplicação induzida da regra de impedimento pela parte, o que fere, de plano, o princípio do juiz natural, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade.
Como se vê dos trechos em destaque, um dos principais fundamentos para que se decretasse a inconstitucionalidade do dispositivo está no fato de que ele constitui uma cláusula excessivamente abrangente, o que poderia ocasionar o “nefasto efeito contrário de aplicação induzida da regra de impedimento“.
Esses pontos parecem relevantes à questão da alegação de parcialidade dos árbitros e à interpretação que se deve dar ao que resta previsto no artigo 14 da Lei de Arbitragem e, em especial, no seu parágrafo 1º.
Primeiramente, é muito interessante notar que, nos termos do que resta previsto no texto da lei de arbitragem, as causas de impedimento e suspeição dos Juízes definidas no Código de Processo Civil, são entendidas, somente, como causa de impedimento dos árbitros, veja-se: Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes (…)
Ou seja, aos árbitros, a regra aplicável é a de que a presunção de parcialidade seria sempre a absoluta, em qualquer dos casos apontados nos arts. 144 e 145 do CPC. Como sabemos, presunções absolutas não admitem prova em contrário, bastando a demonstração da ocorrência do fato para que a norma seja aplicada.
Nesse ponto, já se percebe que a norma do artigo 14 consiste numa cláusula que dá o mesmo tratamento a hipóteses legais que, no texto próprio CPC, são objeto de enquadramentos diversos entre si, afinal, as causas de impedimento são objeto da presunção absoluta de parcialidade, enquanto as causas de suspeição são interpretadas como presunções relativas, ou seja, que admitem prova em contrário.
Feito esse apontamento sobre o caput do artigo 14, voltemo-nos agora à análise do seu §1º. Embora a lei de arbitragem atribua aos árbitros, apenas e tão somente enquanto exercem seu mandato, a posição de juízes de fato e de direito (artigo 18), algumas decisões dos tribunais brasileiros aplicaram, de forma excessivamente abrangente, o comando do dever de revelação dos árbitros (artigo 14, §1º), para anular sentenças arbitrais com base no non disclosure de fatos que não parecem eivar de dúvida justificada imparcialidade que lhes cabe.
Ao que tudo indica, pelas referências feitas nos textos dos próprios acórdãos que interpretam a lei de arbitragem com tal “abrangência excessiva” neste ponto, o grande marco para essa vertente se deu com o julgamento do caso Abengoa (SEC 9412) pelo Superior Tribunal de Justiça, em 2017. Ocorre que, ao que nos consta, parece ter ocorrido com o dever de revelação, justamente, o nefasto efeito contrário de aplicação induzida da regra, que o STF pretendeu evitar com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 144, VIII, do CPC.
No caso Abengoa, concorde-se ou não com a conclusão aplicada pelo STJ, foram analisados pormenores bastante relevantes dos fatos não revelados pelo presidente do tribunal arbitral, bem como sua possível influência no resultado do processo, antes de se decidir pela não homologação da sentença arbitral estrangeira. Não houve, portanto, mera verificação prima facie de uma relação qualquer entre parte e árbitro, para se decidir sobre a parcialidade ou imparcialidade deste no exercício do seu jugo.
Ocorre que, por força deste precedente, o movimento que se verificou em alguns tribunais foi o de se promover a anulação ou a suspensão do cumprimento de sentenças arbitrais, sem que fosse analisada, de forma pormenorizada, a efetiva relevância do non disclosure e das dúvidas levantadas pelas partes, no que concerne ao resultado ou mesmo à condução da arbitragem. Bastou, para tais decisões, a existência de dúvidas, por conta da não revelação de algum fato por um ou mais árbitros nomeados, que lhes vinculasse de alguma forma à parte contrária ou ao(s) seu(s) advogado(s).
Tal movimento ganhou tanto corpo que chegou ao parlamento. Em 2021, foi apresentado à Câmara dos Deputados um projeto de lei para alteração da Lei 9.307/96, por meio do qual se pretende, entre outras coisas, dar nova redação ao artigo 14, §1º da lei, substituindo a expressão dúvida justificada por dúvida mínima. A alteração é muito relevante, pois o comando legal passaria a exigir um critério muito elevado de averiguação, em que qualquer interação de uma das partes com o árbitro poderia ser alegada como suficiente para obstar sua atuação no caso.
Ou seja: o tal nefasto efeito contrário de aplicação induzida da regra, combatido pelo STF no julgamento da ADI 5.953 parece ter sio nefasto o suficiente, desde o caso Abengoa, para induzir uma interpretação equivocada ao artigo 14, §1º da lei de arbitragem, ao ponto de inspirar um PL que propõe regramento tão excessivamente aberto que pode tornar inviável a boa prática da arbitragem no Brasil.
Por este motivo, espera-se que esse precedente importante do STF sirva para represar iniciativas como estas, que fazem mal não apenas à prática da arbitragem no Brasil, como também à própria imagem do país mundo afora como uma jurisdição segura para a arbitragem, o que comprovadamente atrai investimentos, gera riquezas e nos mantém em dia com os compromissos assumidos com a comunidade internacional, por meio dos tratados que já firmamos sobre a matéria.
Publicado em ConJur.